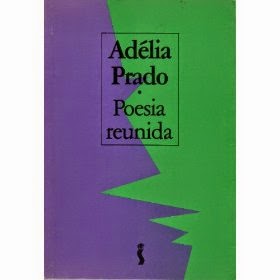Olá!
Sempre fui rato de biblioteca, ça va sans dire. Hoje menos, claro. Consigo comprar os livros que quero pela internet ou visitando livrarias, que se tornaram mais acessíveis do que quando eu era adolescente e passava as tardes na Biblioteca Pública Municipal Dr. Eduardo Durão Cunha, em Nova Venécia (onde estudei na adolescência), enquanto esperava a hora da minha aula de piano ou o ônibus de volta para casa, em Boa Esperança. Posso dizer que essa biblioteca, mais do que qualquer outra, é mítica para mim. Foi lá que, por exemplo, me deparei numa tarde com um livro que sequestrou imediatamente o meu olhar, mais pela capa do que pelo título: duas mãos estendidas com um ovo sobre elas. Tratava-se de Bagagem, de Adélia Prado, em sua primeira edição, da Imago, de 1976 - que consegui num sebo anos depois. Começou aí um caso de amor que dura quase duas décadas, Adelita e eu... Também li desbragadamente a Coleção Prêmios Nobel, através da qual conheci autores como T. S. Eliot, John Galsworth, Ivan Bunin, Salvatore Quasimodo, Saint-John Perse, Gabriela Mistral, Selma Largelöff... Sem contar que a minha paixão por romances policiais também teve início naquela biblioteca: Agatha Christie, Ngaio Marsh, P. D. James, Conan Doyle e tantos outros, que freneticamente devorava. De fato, tive encontros memoráveis naquelas tardes passadas entre as estantes daquela biblioteca, meio mágica, meio mítica. Mas totalmente essencial.
E houve Drummond. Minha história com ele começou lá, quando li As impurezas do branco, talvez em 1995 ou 96, não sei bem. Esse não é o melhor livro para se começar com o a poesia do Carlos, hoje penso. Escrito em 1973, o livro foi considerado por muitos na contramão da realidade brasileira (que vivia o auge do governo Médici e seus arroubos autoritários), ao falar de temas mais globais, como a questão atômica (presente em muitos poemas do livro) ou de temas mais universais e etéreos, como D. Quixote, o suicídio, a amizade, a própria poesia... É um livro difícil para um adolescente de quatorze, quinze anos. Mas eu o enfrentei. Foi a minha porta de entrada na obra drummondiana, como disse. E não é que nunca mais saí de lá? Drummond, de quem me orgulho ter lido tudo, de fio a pavio, é um companheiro constante - meu exemplar de "Antologia poética" está totalmente ensebado, tanto que o consulto, tal um oráculo, para as horas de aflição ou de gozo, tanto faz -, um autor com o qual atravessarei a vida, que lerei daqui a anos. Que lerei sempre, enquanto puder ler. Daí o meu apreço por esse livro, As impurezas do branco.
Um livro que não constava na minha biblioteca, preciso dizer. E não sei dizer por que. Tenho muitos "drummonds", mas esse. Esse não havia. E, sendo a memória seletiva (às vezes, invertidamente, como nesse caso), o livro foi ficando oculto em mim, nunca me ocorreu comprá-lo. Até mesmo porque a edição anterior, da Record, esgotara-se, penso, ficou difícil de encontrar em sebos. O certo é que o livro ficou mais meta do que físico, entendem? Até o domingo passado quando, numa visita (obrigatória) a uma livraria da capital, me deparei com a nova edição do livro, da Companhia das Letras. Não sou místico, mas preciso confessar que, naquele momento, senti que o livro estava ali me esperando. Foi uma sensação como a de encontrar um antigo amigo, de anos. Porque toda uma sorte de lembranças me vieram, de mistura com a saudade, ao vislumbrar a capa branca com círculos, um vermelho, um preto e outro branco sobre cinza (me remeti, na hora, à capa antiga, laranja com um quadrado branco). E o título, mágico, As impurezas do branco, de Carlos Drummond de Andrade. Fui ao caixa sem consultar o preço e sem escolher mais nada: aquele livro precisava ser meu - e não podia ser outro exemplar, encomendado ou de sebo, mas aquele!
Tal a menina do conto "Felicidade clandestina", de Clarice Lispector, namorei o livro até ontem. O tive em minhas mãos, o pus na cabeceira da cama, procrastinei até pôr meu ex-libris na contracapa, como é o meu costume... só ontem à noite o reli. De uma sentada. Não contei o tempo, mas era noite alta quando terminei os últimos verso de "O quarto de banho", o último poema do livro:" A pomba pousa no basculante / assiste ao esguicho da água / à canção das torneiras / ao glissiglissar dos sabonetes / à purificação dos corpos / e voa". Tudo em Drummond é belo, já é mais que clichê dizer, mas este livro tem belezas mais raras. À impressão equivocada de alienação apontada pela crítica nos anos 70, o poeta responde com textos potentes e politizados que, sem falar diretamente do Brasil da ditadura, referem-se cifradamente a ele. É o caso de "Diamundo" ("Dê uma colher de chá aos ricos / Vá morar com eles / no Jardim Sul-América) e "Ao deus Kom Unik Assão" ("Compro. / Sou / geral / É pouco? / Multi / versal. / É nada? / Sou / al"). Por outro lado, as facetas mais significativas da poesia drummondiana estão também presentes: temas como o amor ("Quero que todos os dias do ano / todos os dia dia via / de meia em meia hora / de 5 em 5 minutos / meu digas: Eu te amo", In: "Quero), os amigos que se foram ("Onde está, onde estará Mestre Rodrigo / o dos entalhadores pintores pedreiros", In: "Ausência de Rodrigo") e a morte ("Os mortos / conquistam a vida, não / a lendária, / mas a propriamente dita, / a que perdemos / ao nascer", In: "Vida depois da vida"). É um Drummond dos bons!, me permito dizer com certa liberdade. Porque é um grande livro e, também, porque tenho com ele a maior "intimidade", agora reconquistada.
Claro que o texto do dia teria que ser dele, certo? De todos os poemas do livro, escolho um dos mais conhecidos da lavra de Drummond. É um texto muitas, muitas vezes repetido. Mas que conserva, talvez por isso mesmo, uma potência e uma atualidade espantosas. Sobretudo nesses nossos pós-modernos tempos. Que Drummond não viveu. Mas que, em muitos textos, pareceu prever:
O HOMEM; AS VIAGENS
O homem, bicho da terra tão pequeno
Chateia-se na terra
Lugar de muita miséria e pouca diversão,
Faz um foguete, uma cápsula, um módulo
Toca para a lua
Desce cauteloso na lua
Pisa na lua
Planta bandeirola na lua
Experimenta a lua
Coloniza a lua
Civiliza a lua
Humaniza a lua.
O homem chateia-se na lua.
Vamos para marte - ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em marte
Pisa em marte
Experimenta
Coloniza
Civiliza
Humaniza marte com engenho e arte.
Vamos a outra parte?
Claro - diz o engenho
Sofisticado e dócil.
Vamos a vênus.
O homem põe o pé em vênus,
Vê o visto - é isto?
Idem
Idem
Idem.
Proclamar justiça junto com injustiça
Repetir a fossa
Repetir o inquieto
Repetitório.
O espaço todo vira terra-a-terra.
O homem chega ao sol ou dá uma volta
Só para tever?
Não-vê que ele inventa
Roupa insiderável de viver no sol.
Põe o pé e:
Mas que chato é o sol, falso touro
Espanhol domado.
Restam outros sistemas fora
Do solar a col-
Onizar.
Ao acabarem todos
Só resta ao homem
(estará equipado?)
A dificílima dangerosíssima viagem
De si a si mesmo:
Pôr o pé no chão
Do seu coração
Experimentar
Colonizar
Civilizar
Humanizar
O homem
Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas
A perene, insuspeitada alegria
De con-viver.
(Carlos Drummond de Andrade, p. 27-29)
Do Jorge.