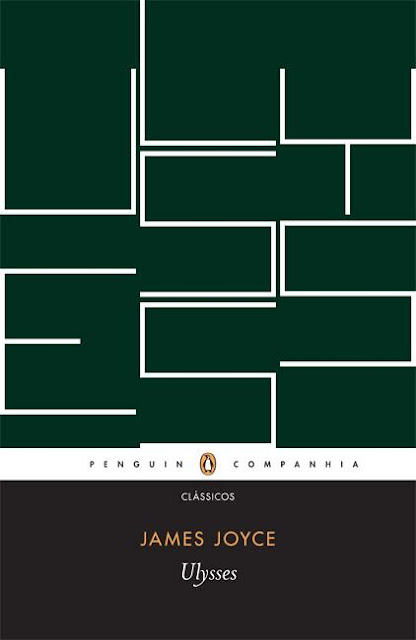Olá!
O título? Os puristas dirão que construí mal a frase.
Explico-me, à guisa de correção: trata-se do título, em Portugal, do livro que
ando lendo, "O compromisso", de Herta Müller. É que lá a tradução
saiu mais ao original alemão, "Heute wär mir lieber nicht begegnet"
(que seria algo próximo de "Hoje eu não seria melhor tratada"). Achei
bom, portanto, titular meu texto de hoje assim. Por que? Calma, sou um sujeito
prolixo, mas sempre deixo tudo explicadinho, na medida do possível. Porque o inexplicável,
explicado está.
Quando, em 2009, Herta Müller foi agraciada com o Nobel de
Literatura, fiquei cético. Minto. Não gostei mesmo, até o disse aqui. Não havia
lido nada dela, ou mesmo à respeito de sua obra. Na verdade, só conhecia Müller
de uma edição da revista Cult com um dossiê sobre a literatura alemã
contemporânea. Na verdade, sou bastante ignorante em matéria de literatura
alemã. Tirando Goëthe, Rilke, Schiller, Günther Grass e Thomas Bernhard (que é
austríaco, na verdade), minhas leituras são parcas. Então, quando Herta Müller
foi anunciada, a notícia passou batida, nem me interessou de fato.
Ledo engano. Só depois é que descobria a joia revelada ao
mundo pelo Nobel - porque, não podemos negar, uma das funções do prêmio acaba
sendo mesmo esta, a de revelar ao grande público autores circunscritos ao seu
idioma ou ao seu público fiel. Herta é, no mínimo, uma autora extraordinária.
Lê-la, uma experiência rica. Na verdade, quando do prêmio, no Brasil havia
apenas duas traduções disponíveis de seus livros: o romance "O
compromisso" e o volume de contos "Depressões", ambos da Editora
Globo. Foi apenas depois do Nobel que saiu "Tudo o que tenho levo
comigo" pela Companhia das Letras. Foi esse o livro dela que primeiro me
caiu às mãos. Confesso que foi difícil ficar inteiro enquanto o lia a história
de Leo Auberg (alter ego do poeta Oskar Pastior, amigo da autora), jovem romeno
que, após a guerra, acaba num campo de trabalhos forçados, por pertencer à
minoria germânica. E o que me doeu não foi outra coisa senão a fome. Sim,
porque a grande protagonista do romance é essa senhora insistente e dolorosa,
que rói e corrói estômago e alma. Uma beleza de texto. Foi a minha porta de
entrada na obra de Müller, esta mulher que escreve sobre a opressão política
pelo viés mais humano possível: a dor que ela provoca em homens e mulheres
comuns, não politicamente comprometidos, mas que são cruelmente atropelados por
ela.
Em "O compromisso" não é diferente. No livro temos
a história de uma mulher sem nome e que conta a sua história na primeira
pessoa, numa espécie de confissão feita ao leitor. Aliás, o tema da confissão é
recorrente no texto. O compromisso a que se refere o título é a obrigação que
ela tem, sempre que solicitada, de depor ao major Albu, pois fora acusada de
ser inimiga do regime comunista do país - numa referência clara à própria
autora, que acabou emigrando da Romênia em fins dos anos 70 por recusar-se a
cooperar com o regime ditatorial de Ceaucescu, que a queria informante de
"comportamentos dissidentes". No livro, a personagem sonha casar-se
com um italiano e, ao descobrir que as roupas que a fábrica em que trabalha
produz são destinadas àquele país, passa a escrever bilhetinhos amorosos e a
pô-los nos bolsos das calças, na esperança de que cheguem a algum "Marcello",
como ironicamente lhe diz um companheiro de fábrica. Após descobrirem, de
maneira um tanto obscura, mensagens dissidentes enviadas àquele país através
das roupas, a suspeita acaba recaindo sobre ela, que passa a ser periodicamente
interrogada pelo major Albu, um sádico que aplica a tortura psicológica apenas
pelo prazer de aplicá-la.
A vida dessa mulher anônima, que bem poderia ser a de
qualquer mulher oprimida (e, aqui, penso nas muitas opressões do mundo
contemporâneo) é reduzida a esperar e a temer. Esperar o momento em que o major
a envie ao Tribunal e a temer o que advirá daí. Seu relacionamento com Paul,
seu marido alcoólatra, as lembranças de sua amiga Lili, assassinada pelo
regime enquanto tentava cruzar a fronteira, suas memórias dolorosas do pai
adúltero e da mãe ausente, tudo passa a gravitar em torno do compromisso de
depor ao major Albu. E esperar, pela redenção (cada vez mais longínqua) ou pelo
castigo (cada vez mais próximo). É um livro assustadoramente belo,
profundamento humano. O relato potente da opressão política e de seus
tentáculos sobre a vida humana. Um retrato de uma mulher que, ao acordar para
mais um dia, preferiria mesmo não ter-se encontrado.
Deixo, como texto do dia, um fragmento do livro. Nele, a
mulher recorda a morte da amiga Lili e acaba refletindo sobre sua banalidade.
Um pouco do texto de Herta Müller, essa autora compromissada com o
profundamente humano:
"Todo aquele que envelhece pensa no passado. O
insolente guarda de fronteira que fuzilou Lili se parecia com a lembrança que o
velho tinha de sua juventude. O guarda era um jovem camponês ou operário. Um
alguém que poucos meses depois entrou na universidade, e mais tarde se tornou
professor, médico, padre, engenheiro. Sabe lá o que fez da vida. Quando atirou,
era só uma sentinela num vasto paraíso onde o vento assobiava dia e noite a
música da solidão. A carne viva de Lili lhe deu calafrios, e a morte de Lili
foi um presente do céu, concedeu-lhes dez dias inesperados de folga. Talvez,
como meu primeiro marido, ele escrevesse cartas infelizes. Talvez o esperasse
uma mulher como eu, que não estava à altura da morta, mas no abraço do amor
podia rir e acariciar seu homem, até ele se sentir um ser humano. Talvez ele
tivesse atirado naquele segundo em nome da sua felicidade, e o tiro
explodiu".
(p. 60)
Do Jorge.